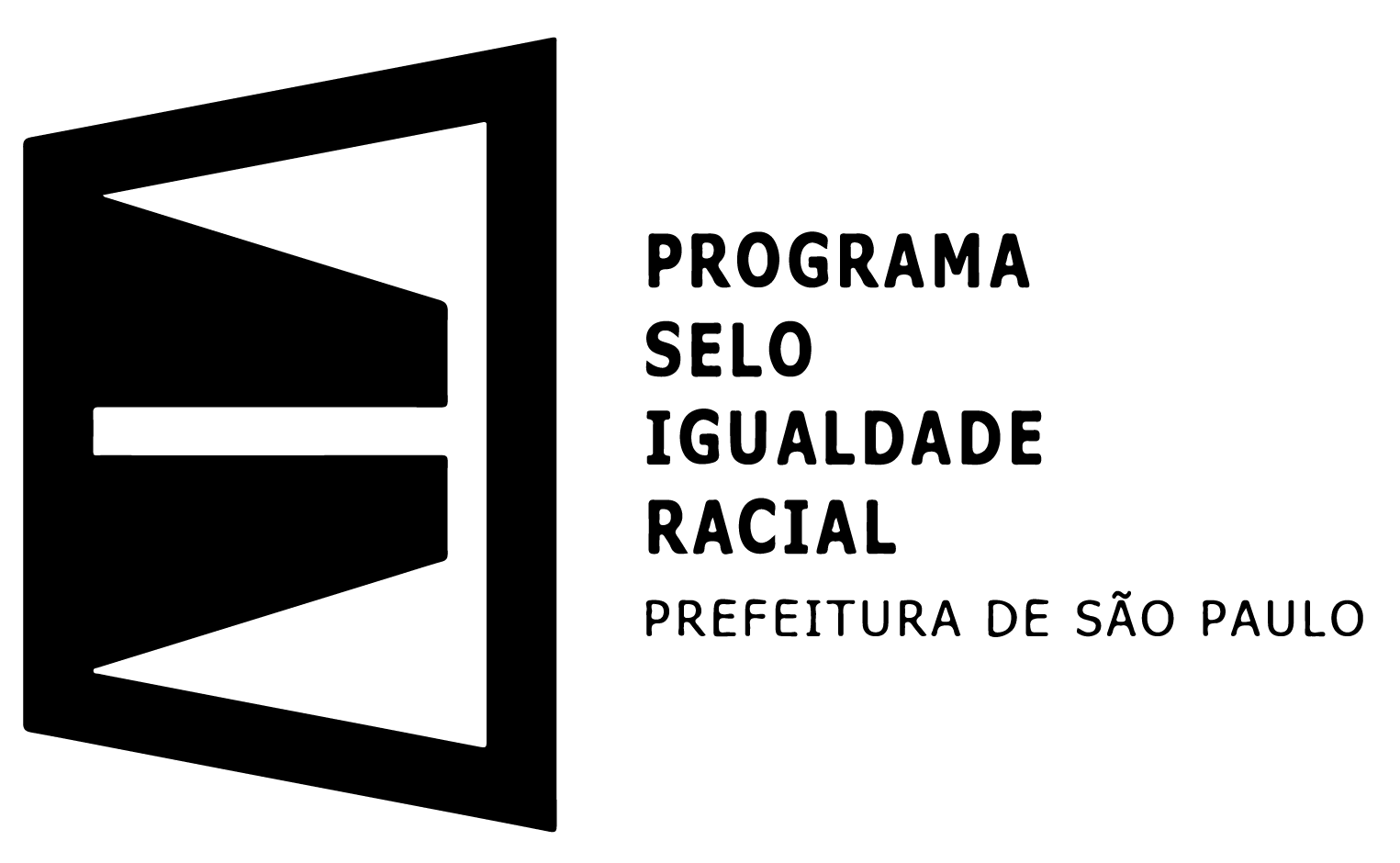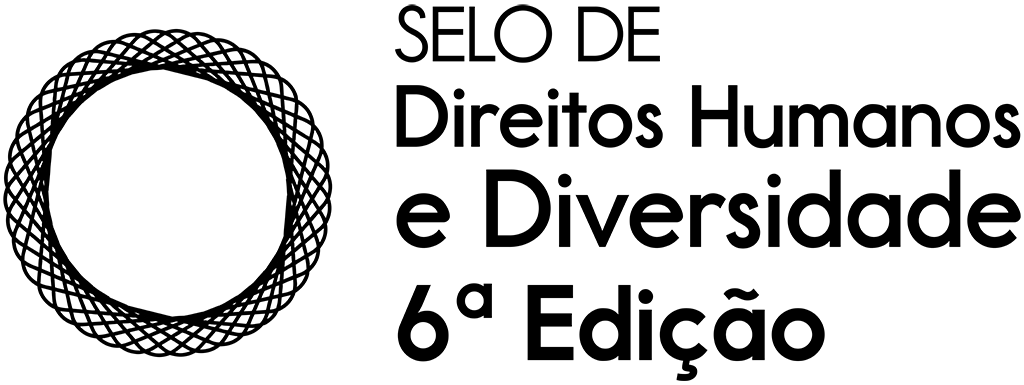Semayat Oliveira,
do Nós, mulheres da periferia para o Memorial da Resistência

Em um sábado de manhã o telefone toca. Era a voz doce de Ana Dias retornando uma ligação perdida de alguns dias atrás. Depois de desejar um bom dia e dizer que as semanas estavam corridas demais, a jornalista do outro lado da linha agradeceu e explicou que estava produzindo uma matéria. Perguntou se poderia utilizar trechos de uma fala feita por ela em maio de 2019, durante um evento do projeto Usina de Valores, promovido pelo Instituto Vladimir Herzog no Campo Limpo, zona sul de São Paulo.
Ana respondeu que sim, até porque acha que mais gente precisa saber o que aconteceu anos atrás. Percebe que parte da população ainda não compreendeu a história que nos trouxe até aqui. Continua na ativa por acreditar na necessidade das lutas atuais, como da população negra, periférica e das mulheres. “Pode usar sim, viu?”, disse.
Seu nome de batismo é Ana Maria do Carmo Silva. Nascida em 1943, no interior de São Paulo, em Pitangueiras. Anos depois, durante a década de 1970, ela se transformaria em uma das principais lideranças contra a carestia, ou do movimento Custo de Vida, por melhoria nas condições de vida da população periférica de São Paulo, melhores salários e acesso à alimentação. Mas antes, é importante voltar um pouco para o final da década de 1950 e o começo dos anos 1960, quando sua vida começou a tomar outro rumo.
“Como eu entrei na luta?”, ela se perguntou para responder logo em seguida. “A gente trabalhava na roça. O meu pai era analfabeto, meu sogro era analfabeto, todos analfabetos. Minha mãe foi pôr sapato depois de 25 anos. E eu trabalhava de empregada com o mesmo patrão do meu marido”, contou.
Seu marido, Santo Dias, também trabalhava em uma fazenda. E segundo Ana Dias, sempre foi muito consciente de que aquela sociedade precisava mudar. Certo dia, após um acidente, ele acabou ferindo as pernas com uma roçadeira [equipamento utilizado para o trabalho], a ponto de precisar fazer enxerto. “O patrão, que precisava do empregado, deu uma assistência. Meu sogro achou aquilo uma coisa muito boa, que ele não era um patrão, era um pai”. Mas o ato do chefe não interferiu na forma como seu filho via a realidade naquele momento.
Pouco tempo depois, dos 17 para os 18 anos, Santo foi um dos organizadores de uma greve que exigia carteira assinada. Quando o patrão descobriu, o expulsou. “Não deixaram ele pegar nada. Disseram: ‘porteira fechada, vocês nunca mais colocam o pé aqui dentro”’. Para o seu pai, ele havia ‘cuspido no prato que comeu’. Mas Ana via que a consciência de seu companheiro estava acima de tudo aquilo.
Ela ainda trabalhava na mesma fazenda como empregada, lavadeira e cozinheira, também dos 16 aos seus 17 anos. Mas algumas coisas tinham mudado. Antes da greve, seus patrões apoiavam o seu casamento com Santo Dias. Mas, depois, ele passou a ser um ‘comunista, sem vergonha, revolucionário’, como ela mesma relembrou. “No fim, eu tive que sair também e, em seguida, casamos”.

A princípio, seu companheiro foi para São Paulo e ela ficou. Nesse período, mantiveram contato por cartas, até que seguiu o mesmo caminho. “Quando chegamos aqui ele foi trabalhar de metalúrgico na região de Santo Amaro e eu continuei de empregada. Nós nos casamos em 1965”.
Foram morar na Vila das Belezas, bairro da zona sul da capital paulista. Depois, se mudaram para a Vila Remo, uma região próxima, onde conseguiram construir um quarto e cozinha. Mas lá não tinha água, luz e nem estrutura nenhuma. “Quando foi em 1972 – 1973, teve um encontro através da igreja [católica], estava cheio de gente. Eu e o meu marido também estávamos lá, porque a gente participava da igreja, só que a partir desse encontro, a vida fez uma virada”.
Depois daquele encontro, ela contou que “quem era a Ana e o Santo, mudou”. E não só para eles, mas para muita gente. “Até aquele dia, quanto mais você sofria, mas você ia pro céu. Mas a partir daquele dia, não. A gente começou a enxergar que a salvação começa aqui. Falamos sobre o valor da pessoa. E eu nunca nem sabia que as pessoas tinham valor. De repente, a gente viu que a gente tinha que estudar o valor das pessoas”.
Ao lembrar, seus olhos brilharam. Ela fez questão de contar como aquele momento era o início de uma grande caminhada. No começo, ela achava que ao entrar nas reuniões iria solucionar seus problemas. Mas depois viu que não, que eles só multiplicavam.
“Quando você ia enxergando os problemas, você queria a solução, mas a solução não existe. A luta não tem fim. A luta não era lá. A luta era ontem, hoje e sempre. Eu vou morrer, o Santo morreu, muitos morrem e nunca vai acabar a luta. Mas algumas vitórias a gente também tem”, reforçou. “Não é só derrota”.
Ela e Santo Dias lutaram. Ambos desejavam melhores condições de vida, sejam por condições de trabalho dignas e salários melhores ou por mudanças imediatas em bairros periféricos, que sobreviviam em escassez de comida e estrutura. E mesmo diante das atrocidades que sofreu durante o regime militar, Ana ainda acredita que enfrentar a realidade é o melhor caminho.
Seu companheiro, Santo Dias, foi assassinado em outubro de 1979, pela Polícia Militar, enquanto comandava um piquete. Neste mesmo dia, os dois tinham levantado às 4h da manhã para ir à greve. Então ele disse: ‘Ana, você não quer levar uma blusa?’. E ela respondeu: ‘Mas tá calor”. Em resposta, ele disse: ‘Se você for presa eu não posso te dar, porque eu também vou ficar lá. Então você faça o favor de levar uma blusa’.
“Aquela noite foi o dia que ele foi assassinado. E eu usei a blusa pra ficar no velório”. Depois do assassinato, ela começou a sofrer ameaças. Era chamada de comunista, terrorista, subversiva, perigosa. “Só que até hoje eu tô aqui, teimosa. Então, gente, tem coisa que foi muito bom, outras foram muito tristes, mas a luta continua”.
Na ditadura, mulheres periféricas exigiram melhores condições de vida
Bel Correa, ou Maria Isabel Lopes Correa, defensora dos Direitos Humanos e conselheira do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo (CDHEP), é uma das organizadoras do livro Fé e Política, junto com Dalila Pedrini e Wagner Correa. A obra traz depoimentos de pessoas que viveram durante o regime ditatorial em Embu das Artes, município localizado na grande São Paulo, incluindo o relato da própria Bel.
Frequentadora das Comunidades Eclesiais de Base em Embu das Artes desde 1970, quando ainda era muito jovem, ela chegou a participar do grupo de jovens, além de acompanhar seu pai nas reuniões da Pastoral Operária desde os 14 anos. O objetivo central da publicação é contar o papel organizacional das igrejas católicas nas reações sociais da época, como foi o caso dos Clubes das Mães, movimento que Ana Dias fez parte desde o início.
“A época era de ditadura, repressão, sofrimento para o povo e muita opressão. Então os salários eram baixos, a escola era militarizada, se investia pouco na população pobre, a população era empurrada. Então o que aconteceu? A pobreza fez com que as pessoas se mobilizassem no Brasil inteiro, inclusive em Embu das Artes”, disse.
A cidade fica muito perto da zona sul da cidade, o que fez com que houvesse uma conexão entre os ativistas daqueles territórios. “Essa resistência foi muito construída pelas [Comunidades] Eclesiais de Base. Tinha até um curso que se chamava “Fé e Política”. E ao mesmo tempo em que acontece a ditadura no país, a igreja se abre para esse novo entendimento do evangelho, essa nova forma de entender Jesus. Então é criada a teologia da libertação, que vem dizer para o povo que as pessoas não estão nesse mundo pra sofrer, então, lutar por direitos era uma reação”, resgatou Bel.
Para ela, era uma reação para mudar a vida, pra vida ser mais decente e para as mães terem condições de cuidar dos seus filhos. “Então, o movimento incluiu as mulheres simples, do povo, que mal sabiam ler, que diziam: ‘está tudo muito caro e a gente não consegue comer, nossos filhos não conseguem comer”’, relembrou.
Segundo Bel, as igrejas foram importantes para a acolhida desses movimentos. E ela destaca o Padre Jaime Crowe como uma das peças importantes desse quadro. Ele atuava não só em Embu das Artes, como na zona sul. E ela também destaca a ação de Dom Paulo Arns com a ‘Operação Periferia’, quando na década de 70 e 80, houve um investimento em salões comunitários.
“Eram salões onde se rezava, mas também eram salões onde virava creche durante a semana, além de ser onde também se faziam reuniões para discutir todas as coisas, principalmente a Pastoral Operária e os Clubes de Mães. No Embu foi muito forte e também na Vila Remo, na região do Jardim Ângela”, explicou Bel.
Ela contou que as mulheres tomaram a frente da luta. Além de precisarem trabalhar, muitas vezes os maridos estavam desempregados. A luta ficou conhecida como Movimento Contra a Carestia (MCC) ou Movimento do Custo de Vida (MCV).
Dos 26 depoimentos que o livro Fé e Política traz, um deles foi escrito por duas filhas da dona Maria Nazaré do Rosário, uma das mulheres que fizeram parte desse movimento. Ela saiu na capa do jornal “O São Paulo”, jornal da Arquidiocese de São Paulo, segurando uma panela em um título que dizia “Panela vazia leva donas de casa à praça”.
Presente nos clubes desde do início da década de 1970, Ana Dias reforça que essa luta começou na periferia. “Começamos a falar dos valores, da mulher sair de casa, fomos as pioneiras aqui. Não tinha asfalto, não tinha água, não tinha luz, não tinha ônibus, não tinha nada em tudo isso aqui [Diz fazendo referência ao lugar onde concedeu a entrevista, no Campo Limpo, zona sul]”. “E quem fez muitas coisas? As mulheres!”, continuou.
E os Clubes de Mães não agiam de forma isolada, havia uma coordenação e uma comunicação que conectava diferentes regiões para que as decisões fossem tomadas. “Não era assim solto, tinha toda uma organização. E a gente não levava duas ou três mulheres não, viu. Começamos com um clube de mães, depois esse número subiu para dois, dez, vinte”, explicou Ana Dias.
Outra mulher que também fez parte dessa luta foi Adélia Prates, moradora do Grajaú, outro bairro da zona sul de São Paulo. Com uma história parecida com a de Ana Dias, ela veio do interior para a capital de São Paulo. Depois de se mudar para o Grajaú, bairro que mora até hoje, percebeu que faltava o básico para viver.
“Quando eu cheguei aqui [no Grajaú], não tinha luz, não tinha nada e eu ia na missa. Só tinha a igreja Nossa Senhora Aparecida, não tinha mais igreja nenhuma aqui. Era uma capelinha, a rua cheia de barro, não tinha nem asfalto. Aí eu comecei a participar lá do Clube de Mães, dentro da igreja”, contou Adélia Prates.
Em seguida, ela começou a fazer parte das discussões para traçar estratégias sobre o que seria feito para conseguirem uma estrutura mínima para sobreviver. “Porque a gente tinha luz, mas era emprestado. Uma emprestava pra outra. A água do poço não dava pra usar. A minha casa por exemplo não dava pra usar, era contaminada, aí a gente começou a lutar por água, luz e asfalto”, lembrou.
Além da estrutura do bairro, o custo dos alimentos era outra reivindicação forte. Adélia chegou a fazer bloqueios em frente aos açougues do bairro contra o preço da carne, além de protestar na região central, como a emblemática manifestação na Praça da Sé.

Em 1978, o movimento levou mais de 20 mil pessoas para o marco zero da cidade de São Paulo em relação à política econômica do então governo. Naquele momento, o presidente do Brasil era o militar Ernesto Geisel. Adélia contou que as pessoas eram avisadas sobre a manifestação por um ‘caminhãozinho velho’ que passava pelas ruas. “A gente conseguiu pegar um ônibus e ir pro centro fazer a manifestação contra a carestia”. Lá, elas cantavam: “Como pode um povo vivo viver nessa carestia/ Como eu poderei viver com a panela vazia”.
Se referindo a algumas manifestações recentes, em que pessoas bateram panelas nas janelas de suas casas e apartamentos, ela endossou que isso começou nas ruas e na luta por comida. “A gente batia panela. Hoje o pessoal bate panela, mas essas foram as nossas raízes, nós que começamos. Porque a gente não estava conseguindo nem se alimentar. Às vezes não tinha feijão, éramos obrigados a comer feijão preto, não tinha outro feijão pra comprar. As coisas eram muito caras”, detalhou.
Outro fato que marcou a história foi a conquista de mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas em um abaixo-assinado que exigia o congelamento dos preços dos alimentos, mais creches e escolas para as crianças. O documento foi entregue ao ditador General Geisel.
“Muitas iam para a porta das fábricas colher abaixo assinado. Aí os patrões falavam para os funcionários: ‘escuta, onde sua mulher tá indo com esses papéis? Se sabe que sua mulher tá indo em lugar perigoso?’. Sabe? Eu pensava: Meu Deus, mulheres analfabetas na luta e na discussão. Tudo isso me deixava tão feliz, em saber quanta coisa a gente podia fazer”.
E a convivência entre as integrantes ia além dos atos e das ruas. Adélia chegou a ensinar técnicas de manicure para outras mulheres. E Ana se lembra dos momentos em que aprendiam a bordar, a fazer tricô e crochê. “Então eram duas partes: uma era aprender a tricotar e a outra era debater”, disse Ana Dias, sorrindo.
Adélia e Ana Dias falam com orgulho das conquistas que conseguiram naquele período. O movimento que se fortaleceu na troca entre as mulheres e dentro das igrejas, independente de religião, atingiu proporções políticas que refletem nas periferias até hoje. “Nós conseguimos água, luz, escola, posto de saúde, sair na rua, largar a panela, brigar com o marido. Gente, nós éramos revolucionárias”, finaliza Ana Dias.
_
Quer saber mais sobre as memórias da ditadura nas periferias de São Paulo?
Esta é a terceira e última parte de uma série de conteúdos produzidos pelo Nós, mulheres da periferia em parceria com o Memorial da Resistência. Conheça também a história de luta e resistência de Perus e as memórias da Zona Leste durante o período autoritário!
Assista também a LIVE “Memórias da ditadura nas periferias de São Paulo“, com mediação do Nós, mulheres da periferia, que reúne pesquisadoras e moradoras de bairros periféricos paulistanos para falarem sobre as lutas de resistência nos territórios durante os anos ditatoriais.
Em parceria com o Memorial, a redação jornalística Nós, mulheres da periferia realizou uma reportagem especial sobre as lutas de resistência e as memórias da ditadura civil-militar em algumas das regiões periféricas da capital paulista.
Veja todas a série aqui