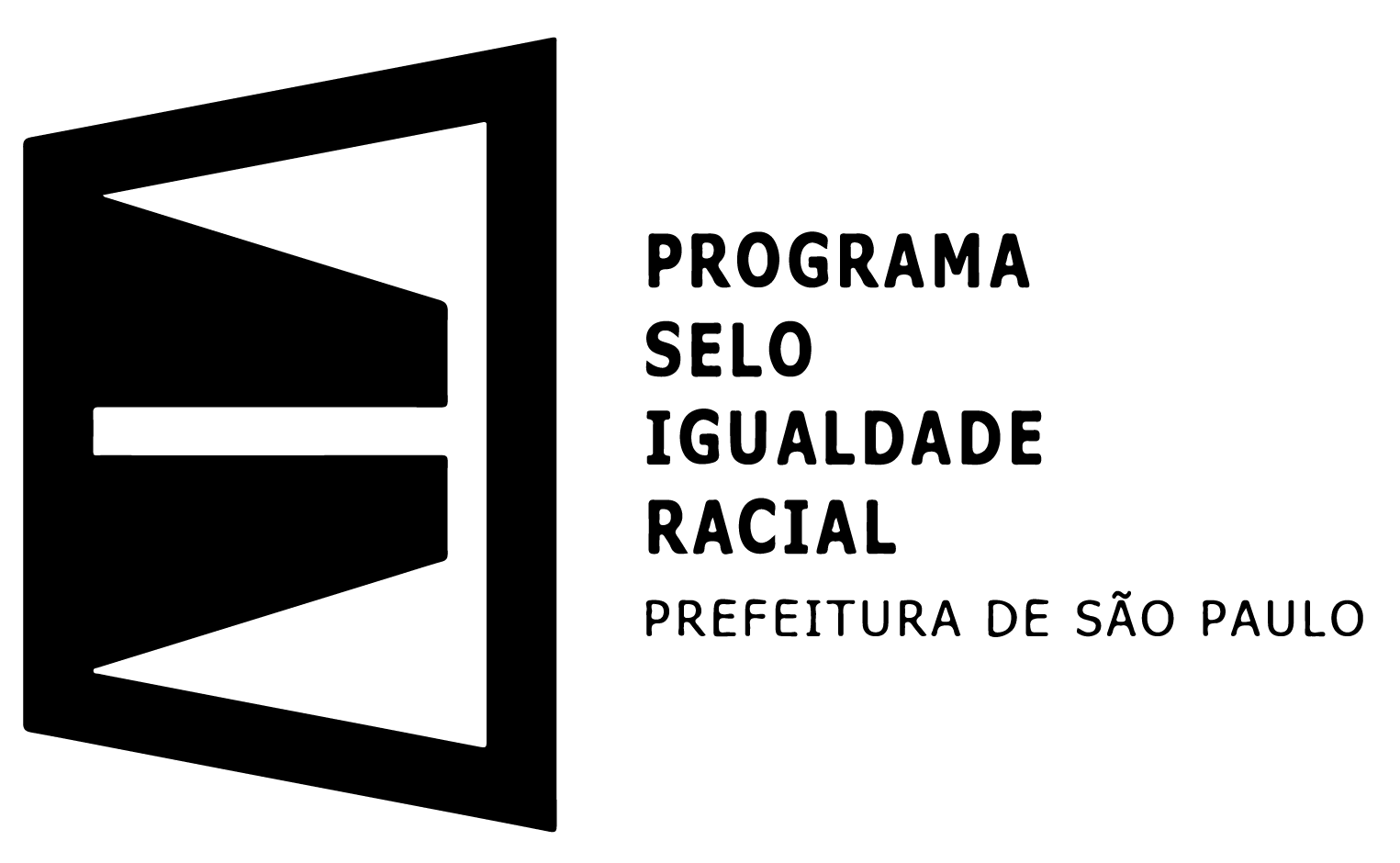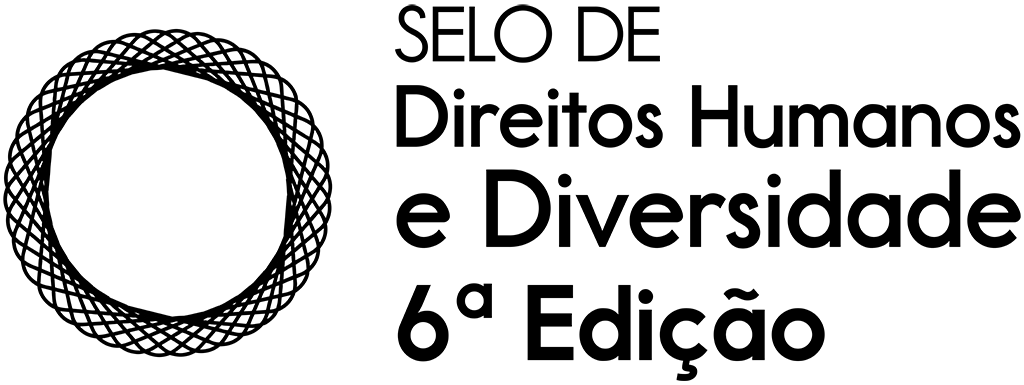Jéssica Moreira
do Nós, mulheres da periferia para o Memorial da Resistência

Era o ano de 1969 quando a professora Jandira Ribeiro, 74, chegou ao bairro de Perus, região noroeste da cidade de São Paulo. Do interior do Paraná, veio com a família buscando melhores condições de vida, como outras pessoas que migraram para a região sudeste entre as décadas de 1970 e 1980.
No cenário nacional, completava um ano desde que o AI-5 (Ato Institucional nº 5) havia sido instaurado. Entre os 17 atos institucionais ditatoriais, o AI-5 foi considerado um dos mais duros do período: o Congresso Nacional e assembleias legislativas estaduais foram fechadas, a censura à imprensa e à cultura tomou proporções alarmantes, com forte repressão a esses setores.
Nos territórios periféricos, o cenário era de fome, ausência e violação de direitos, sem contar as mais diversas práticas repressivas. “A gente não entendia esse momento. Eu passei a compreender a partir das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)”, conta Jandira, que à época atuava como catequista.
Era no interior da Comunidade Eclesial de Base João XXIII, no Jardim do Russo, em Perus, que ela, outras mulheres e também homens se encontravam para pensar soluções para a região por meio do próprio Evangelho.
“Em 1973, como catequista, comecei a articular os grupos de rua [nome dado aos grupos organizados junto à comunidade], onde a gente falava sobre a sociedade a partir do evangelho por meio dos verbos: ver, julgar e agir. Julgava a partir da realidade e assim pensávamos em como agir na prática”, conta.
Mesmo não tendo uma leitura de que se tratava a Ditadura, como ela lê hoje, Jandira relaciona as dificuldades sociais e econômicas também à crise política. Data desta época a construção da Rodovia dos Bandeirantes, especificamente em 1978.
Centenas de famílias foram despejadas do local e ficaram sem moradia, o que, segundo Jandira, deu espaço ao surgimento de grandes favelas principalmente no Jardim do Russo, próximo ao empreendimento.
“O trator ia passando e as pessoas iam se virando, nem chegava aviso. Quando o trator começou a passar [por cima da casa das pessoas], elas começaram a se envolver mais [nas questões sociais]. Como era catequista, eles vinham muito na minha casa”, relembra. “Eles desapropriaram os bairros pobres, onde as pessoas não tinham escritura, que não tinha legalização das terras, ninguém recebeu nada”.
Ela cita, ainda, a instalação do Aterro Sanitário Bandeirantes, em 1979. O “lixão” funcionou durante 28 anos no bairro e chegou a receber, aproximadamente, 35 mil toneladas de lixo de toda a capital de São Paulo.
Nos Clubes de Mães do bairro – organizações autônomas que refletiam sobre seus territórios – as mulheres sempre reclamavam sobre o mau odor e as doenças respiratórias que afetavam principalmente suas crianças. “No começo, a comunidade achava que o aterro simbolizava progresso para o bairro, mas depois começaram a se organizar para tirá-lo”, conta Jandira.
“A gente tem até um livro escrito [sobre os Clubes de Mães]. A gente participava. Era um espaço para as mulheres conversarem sobre os problemas, questões pessoais, luta por escola, por creche de também sexualidade”, relembra Jandira.

Queixadas: 7 anos de greve em meio à ditadura
Para ela, falar sobre as décadas atravessadas pela Ditadura em Perus é lembrar de resistência. No mesmo ano que ela chegou no bairro, sindicalistas da Companhia de Cimento Portland Perus estavam próximos de completar sete anos de greve, a maior paralisação da história sindical do país, empreendida entre 1962 e 1969, atravessando os anos de chumbo.
Segundo registros do advogado do sindicado Dr. Mário Carvalho de Jesus, o sindicato foi um dos primeiros a receber intervenção militar em São Paulo, em 1964. Tanto ele, quanto o presidente da organização, João Breno, chegaram a ser presos.
“Ao invés do decreto de encampação, porém, o que sobreveio foi uma intervenção policial contra os grevistas da Perus tão brutal que, em sua memória coletiva, o Golpe Militar de 1964 ficou gravado como um mal menor”, aponta o historiador Élcio Siqueira na dissertação Cia. Brasileira de Cimento Portland Perus: Contribuição para uma história da Indústria pioneira do ramo no Brasil (1926-1987).

“O João Breno apanhou e teve problemas sérios nos ossos. No final da vida, ficou quase sem andar, isso porque apanhou na época da Ditadura. Vê se alguém lembra de João Breno? Ninguém fala. Não tem memória”, diz Jandira.
Inquéritos policiais contra os sindicalistas, chamados Queixadas, também foram reativados, sendo eles tratados como criminosos. Como o sindicato estava sob intervenção, o contato coletivo com os trabalhadores em Perus ficou prejudicado.
Em Cajamar, Padre Hamilton Bianchi, que apoiava a greve, facilitava os encontros dentro da Igreja. O apoio dos padres foi de extrema importância não só para os Queixadas, mas para todos os movimentos sociais.
Embora não haja tantas informações sobre o período, Jandira recorda que os padres que apoiavam os movimentos sociais narravam que sofriam constantes perseguições. “A gente não achava, a gente tinha certeza que o DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) vigiava os padres Matheus J. G. Vroemen, e Pedrinho (Pedro Steavens)”, conta a moradora, que chegou ouvir isso dos próprios sacerdotes.
O pó de cimento esmaga a vida
Se a década de 1970 foi marcada pela revolução feminista em todo o mundo, em bairro periféricos como Perus crescia o senso de solidariedade entre mulheres que estavam pedindo o básico para elas e suas famílias. A população sofria com problemas respiratórios devido ao pó que a Fábrica de Cimento Portland Perus jorrava em todo o bairro.
Em 1981, ocorreu um dos primeiros movimentos ecológicos do Brasil, segundo moradores, quando mulheres donas de casa se uniram na campanha da fraternidade “O pó de cimento esmaga a vida” e saíram às ruas da região pedindo modernização dos filtros e mais saúde para suas famílias. Jandira também foi uma delas e se lembra de que, neste dia, houve até deportação de uma participante imigrante, já que era proibido a manifestação de estrangeiros.
Memória da Ditadura na periferia
Por mais que o bairro de Perus seja historicamente conhecido por conta da Vala Clandestina do Cemitério Dom Bosco, aberta em 1976 e só descoberta no início dos anos de 1990, onde foram encontradas 1.049 ossadas de vítimas do período, falar sobre o cotidiano dos anos de chumbo ainda é um grande tabu no bairro.
O grupo de psicólogos da Margens Clínicas — projeto de memória que visava ouvir territórios atingidos pela ditadura militar–, realizado no bairro entre os anos de 2016 a 2017, constatou isso na prática, já que a iniciativa também teve dificuldades de encontrar pessoas que topassem falar sobre o período em rodas públicas.
“A violência de Estado produz esse silêncio. Ninguém quer se levantar para dizer que sabia ou deixa eu dar meu depoimento. Esse silenciamento é fruto da própria prática de violência para as pessoas não se sentirem à vontade para falar a respeito do que aconteceu ou do que viram”, diz o psicólogo Vitor Barão, que integrou o projeto.
“Os Queixadas tinham noção que estavam em uma Ditadura. Eu não sei se ao pé da letra, uma Ditadura, mas eles sabiam que existia uma perseguição. Era mais fácil eles entenderem que existia uma perseguição política ao movimento sindical, do que entender que era um regime militar. Eles entendiam que eram uma ameaça ao regime político”, diz a jornalista Sheila Moreira, 38.
Desde 2019, ela e outras mulheres do bairro vêm resgatando algumas dessas memórias por meio do Centro de Memória Queixada – Sebastião Silva. Sheila é neta de Sebastião, um dos trabalhadores grevistas da fábrica, que até o fim de sua vida lutou pela memória dessa história, contando-a aos mais jovens dos movimentos sociais e unidades escolares.
Dentre as iniciativas, está a coleta de entrevistas com quem viveu o período ou trabalhou na fábrica, organização de documentos, realização de bate-papos virtuais, disseminação dos materiais nas redes sociais, organização e produção de uma cartilha com todo o acervo a ser disponibilizado em um site para a comunidade local e demais interessados.

Muito se fala nas repressões aos grupos diretamente ligados às questões políticas. Mas o que as mulheres de Perus lembram é que a população do bairro também foi vítima da repressão policial do período e alguns carregam as sequelas desse momento até hoje.
Dos depoimentos que Sheila ouviu, poucos se relacionam com a Ditadura Militar. “Eu conversei com uma senhora chamada Vilma, que trabalha até hoje na Igreja Católica, o pai dela era Queixada, ela era pequena na época da greve, só que lembra de algumas coisas, porque o acompanhava nas passeatas. E ela relembra da polícia vindo pra cima dele e ele tentando se defender, quando a mãe dela interveio”, narra a jornalista.
“Conversei também com outras mulheres que narram a forte presença de militares dentro da fábrica de cimento. E o pai delas também foi grevista. E o pai delas chegou a ficar sumido durante duas noites, porque havia sido pego pela polícia. Não soube me contar muitos detalhes, mas lembrava que ele havia ficado desaparecido durante esses dias”, diz.
Jandira lembra de histórias de vizinhos que apanhavam da polícia simplesmente por estarem na rua. “Um senhor chamado Paulo Daniel, que era pai de um amigo, trabalhava em uma padaria na esquina de casa e a polícia bateu nele sem motivo. Até hoje ele está na cadeira de rodas”.
Uma das lembranças mais marcantes de todas as entrevistadas é a obrigatoriedade de seus pais, tios ou avós terem que sair de casa com o RG e também Carteira de Trabalho.
“Preto não pode sair sem RG”
Nascida em 1978, a professora Valéria Mota era uma criança durante a Ditadura, mas tem muito viva em sua memória os tios saindo de casa com o bolso cheio. “Minha avó sempre disse ‘Preto sempre teve que sair com documento’. Para a população preta, a Ditadura sempre existiu. Meu avô falava: desde a roça, eu andava com os documentos no saco, na Bahia. Preto sempre teve que andar com documento presente. Essa repressão sempre foi muito presente”, conta Valéria.
“Quando a polícia parava, tinha que provar que era trabalhador. Carteira grande, por conta da carteira de trabalho. Não bastava a carteira de identidade, se não tinha carteira de trabalho, era vagabundo, vadio. Um pensamento escravocrata da Lei da Vadiagem”.
Valéria conta que, em sua família, ninguém nunca chamou esse período de Ditadura e foi juntando as poucas memórias com pesquisas da faculdade de Artes e Visuais e Pedagogia, que ela começou a entender que, para as periferias, a Ditadura foi sinônimo de fome.
“Quando estava na faculdade, o professor pediu para entrevistar familiares. Entrevistei minha vó, mas ela falava disso com distanciamento. Ela dizia ‘a gente aqui tem que trabalhar de dia pra comer de noite. A gente não viveu essa Ditadura que o povo diz, mas meus filhos nunca puderam sair sem documento. As carteiras eram gordas, eles não saiam sem a carteira de trabalho’.”

Repressão ontem e hoje
Nos anos de 1990, os primeiros após a reabertura política, os resquícios da Ditadura estavam nas ruas, principalmente para as juventudes negras. Valéria era integrante de grupo de rap, e mesmo sem a discussão racial que hoje realiza, já sentia que as repressões policiais batiam mais forte para as meninas e meninos negros das periferias.
Se, no passado, os trabalhadores da fábrica andavam em turma para se proteger, nos anos 90 quem integrava o Movimento Hip Hop também fazia o mesmo. “A gente apanhava real da polícia, [só] não quando a gente tava em bando. Sempre andava muito em grupo. Era um estilo marcado, de calça larga. Fiz até uma música na época. O policial sempre vinha pagar pedágio, eu recebia tapa na cabeça. A pressão que eu sentia naquela época, hoje, eu entendo que era uma repressão”, relembra.
Seja nos anos de 1990, ou então em 2021, a repressão policial continua latente na vida da população periférica, principalmente de jovens negros. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em novembro de 2020, negros eram 79,1% das vítimas de intervenções policiais que resultavam em morte.
“Até hoje carregamos esse fardo da ditadura. Mas carregamos também o fardo da escravidão, algo que foi tão mais doloroso pro povo preto, que carrega memórias muito violentas do genocídio”, diz ainda Valéria.
Hoje, enquanto diretora de uma escola pública municipal na zona sul de São Paulo, Valéria tenta falar sobre o período com crianças e adolescentes conectando-os às memórias de suas famílias e do território e também relembrando sempre que esse período é uma continuidade de um outro capítulo da história brasileira, que foi o da Escravidão.
“Na minha formação enquanto educadora, trago mais memórias do território do que as adquiridas no campo acadêmico. Na escola, em qualquer assunto que tenha a abordagem da Ditadura Militar, faço também a linha do tempo desde a invasão do Brasil, processo escravocrata, para mostrar a falta de direitos hoje”, conta.
Jandira, que aos 60 anos se formou em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), também utiliza a mesma metodologia de Valéria com seus alunos de Mova (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos – MOVA), que ela diz se basear também no patrono da Educação, Paulo Freire.
“Eu trago esses assuntos sempre com gancho de alguma coisa. Agora na pandemia, trago gancho e faço leituras, pergunto coisas pra eles lembrarem, tento ajudar a ter uma leitura de mundo. Então, quando surge o assunto, eu não pego aleatoriamente, eu trabalho, já trabalhei a questão da moradia, trabalho, a desapropriação, a falta d’água na pandemia”, aponta a educadora.
Os desafios de falar de memória na periferia
Para Sheila, o principal obstáculo é convencer as pessoas moradoras das periferias que as memórias pessoais e familiares delas também importam. “A nossa memória foi apagada. Quando chamo as pessoas a darem depoimentos para o Centro de Memória Queixada, as pessoas acham que não têm nada para contar. Acham que porque o pai foi porteiro de uma fábrica não tem história”, relata.
“Eu acho que o grande desafio é as pessoas entenderem a memória como um caminho para se identificarem com o lugar onde vivem”, diz a jornalista, que considera esse silenciamento também como um resquício da Ditadura. Não só da Ditadura, mas a História do Brasil é assim. Porque, desde que o Brasil é Brasil, temos esse apagamento de memórias”, diz Sheila.
Construindo memórias
Na Vala, além dos militantes contrários ao regime ditatorial, também havia vítimas do Esquadrão da Morte –grupos de policiais envolvidos com a criminalidade e práticas de tortura — e da epidemia de meningite que assolava os territórios periféricos. Das 1.049 ossadas encontradas no espaço, ao menos 49 foram identificadas como de desaparecidos políticos e as demais eram de jovens executados pelo Esquadrão ou de vítimas de meningite durante os anos da Ditadura Militar.
“Apesar do alto número de óbitos, os militares negavam a existência da epidemia de meningite, assim como o atual governo, que naturaliza a morte”, conta Amanda Vitorino, estudante de Direito e integrante do CDDH-CAP (Centro de Direitos Humanos Carlos Alberto Pazzini), que luta pelo registro da memória da época a partir da periferia.
Ela aponta, ainda, como a subnotificação do passado também pode ser encontrada em tempos atuais, diante das tentativas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em não divulgar os dados sobre a pandemia: “A omissão de dados oficiais faz com que as pessoas não conheçam a real dimensão dos problemas que nos atingem. Durante a ditadura, informações foram escondidas para preservar o suposto “milagre econômico”.
Para nunca esquecer do genocídio contra a população negra e periférica também daquele período, é que a Agência Queixadas, uma iniciativa da Comunidade Cultural Quilombaque, vem realizando as trilhas da memória “Ditadura Nunca Mais”, para grupos de estudantes, nas quais um dos pontos de parada é o cemitério.

“Vivemos um momento em que é preciso ficar relembrando o que é democracia. Nesse sentido, a trilha reforça quais lutas precisamos travar para que, de fato, sejamos livres, e para que ninguém mais corra o risco de morrer por se expressar, por algo que é um direito”, aponta Camila Cardoso, uma das gestoras da Agência Queixadas.
Desde 2018, o Grupo Pandora de Teatro apresenta o espetáculo “Comum”. De forma crítica, a peça mostra a história pela perspectiva dos sepultadores e também de quem busca por seus familiares desaparecidos.
Para a atriz do grupo, Caroline Alves, 21, que cresceu ouvindo as histórias de seu tio, sepultador do cemitério no período da criação da Vala, o fato não pode mais ser soterrado. “O espetáculo traz à tona um assunto ainda pouco falado pela população e mostra para os mais novos a importância da memória e verdade, pois enquanto não houver justiça, esses crimes ainda estão acontecendo no presente”.
_
Quer saber mais sobre as memórias da ditadura nas periferias de São Paulo?
Conheça a história de luta e resistência de Guaianases e da Zona Sul da capital, que integram a série de conteúdos produzidos pelo Nós, mulheres da periferia em parceria com o Memorial da Resistência.
Assista também a LIVE “Memórias da ditadura nas periferias de São Paulo“, com mediação do Nós, mulheres da periferia, que reúne pesquisadoras e moradoras de bairros periféricos paulistanos para falarem sobre as lutas de resistência nos territórios durante os anos ditatoriais.
Em parceria com o Memorial, a redação jornalística Nós, mulheres da periferia realizou uma reportagem especial sobre as lutas de resistência e as memórias da ditadura civil-militar em algumas das regiões periféricas da capital paulista.
Veja todas a série aqui